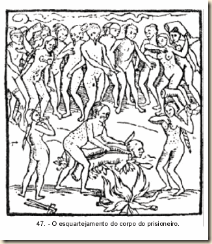Não me espantei quando li nos Cronistas do Descobrimento que os índios brasileiros comiam carne humana. É certo que tamanha violência nunca passa confortável, mas me lembrei de tanta coisa que acontece quinhentos anos depois.
Os cronistas relatam que o prisioneiro-refeição era tratado mais ou menos assim: amarrado com a mussurana, corda de algodão tropical tecida pelas mãos femininas da tribo, recebia além de bofetadas e ameaças alguns presentes: dispunha, no sentido mais amplo do termo, das mulheres da tribo, muitas vezes a filha do cacique. Havia casos em que a índia-guardiã sentia o coração apertado e, condolente, cuidava do prisioneiro como só as mães sabem. Se ele ficasse doente, acalento, reza e erva. Isso sim é uma prisão! Claro que tanto zelo não era regra.
Os prisioneiros eram sempre inimigos da tribo. O alemão Hans Staden foi mantido prisioneiro pelos tupinambás, que eram inimigos dos portugueses e pensaram que ele era português porque naufragou com os portugueses. Quando franceses amigos dos tupinambás revelaram sua verdadeira nacionalidade, o relacionamento mudou e muito: era tempo de guerra, e Hans Staden, que sabia da movimentação portuguesa, passou a ser uma espécie de oráculo dos índios. Ainda escravo, não mais refeição.
Hans Staden, homem de muita fé, nos conta que:
“Depois dão-lhe (ao prisioneiro) uma mulher, que o alimenta e também se entretém com ele. Se ela recebe um filho dele, criam-no até que fique grande e depois, quando lhes vem à mente, matam-no” (Hans Staden, Duas viagens ao Brasil, L&PM Pocket, 2010, p. 160).
Eu fiquei pensando: não é isso que hoje nós fazemos com alguns dos nossos queridos companheiros? Nós, civilizadíssimos, filhos do conhecimento e da robótica, homo sapiens sapiens - vejam só, duplamente sábios! -, fazemos a mesma coisa. Troque prisioneiro por boi, mulher por vaca e criança por bezerro. Imaginem uma fazenda qualquer, dessas que existem aos bocados aqui na Terra do Pau Brasil. Quanto verde, quanto ar puro, que tranquilidade! Isso sim que é vida! Mas cuidado, amigo boi, “o beijo é a véspera do escarro”, Augusto dos Anjos bem o sabe, tu nem imaginas o que vai acontecer. Fostes criado tão bem, à vontade, tranquilo, para que na mesa, depois de assado, fiques saboroso, macio e suculento.
Acho que não fui preciso. Amigo boi, amiga vaca, amiga galinha, amigo peru, amigo porco, vós nem desconfiais de nada. Quer dizer, um mugido de dor, um piado de medo, um grunhido de agonia revelam a traição e despertam a turma toda. Vos bentrataram e engordaram, para vos devorarem. Entre parênteses: o peru foi encontrado no Peru pelos espanhóis e levado para a Espanha, depois chegou a Portugal e ao Brasil. E muitas vezes antes de ser por nós executado bebe cachaça, para relaxar. Incrível coincidência: no ritual canibalesco, “O prisioneiro tem de beber com os selvagens”, (STADEN, 2010).
Para comer bichos terrestres, os índios caçavam; para comer peixes, pescavam. A ênfase não é por acaso. Caçar e pescar era um ritual. Stellio, embrenhavam-se na mata, olho no olho do bicho e lançavam a seta. Ou então armavam uma arapuca e traziam a refeição. Em caso de má sorte, seriam a refeição. Habilidosamente, em silêncio e na ponta dos pés, beiravam o rio e fisgavam o peixe. Sem essa de gancho de açougue ou prateleira de supermercado a expor cadáveres semicongelados. Nada de hambúrguer empacotado ou petisco de mesa de bar. Não, não se engane com essa história de que a vida moderna é diferente. Só é ultraveloz para quem quer que ela seja. Não ponha a culpa nisso ou naquilo. A culpa é nossa. Hans Staden: “Naquela terra só há o que se busca na natureza” (op. cit., p. 61). Entre parênteses: segundo o Houaiss, estelionato vem do latim stellio, que significa ‘lagarto estrelado, estelião’, daí velhaco, trapaceiro, porque o estelião muda de cor.
O índio tratava seu prisioneiro-refeição às claras, sem perfídia. No pocaré, o ritual canibalesco, as mulheres desempenhavam um papel curioso: amarravam chocalhos nos pés e dançavam e cantavam ao redor do banquete, que sentia o clima porque a tudo via e ouvia, e da ibirapema, maça com que o matam. Na iminência de ser devorado, a única esperança era tentar fugir. Hans Staden teve mais sorte: em vez de comida, virou escravo; em vez de fogueira, foi objeto de escambo. Assim conseguiu a liberdade: foi trocado por “alguns objetos, facas, machados, espelhos e pentes, no valor de cinco ducados” (op. cit., p. 121).
Era o sentimento de vingança que orientava as atitudes dos índios canibais. É o sentimento de vingança que nos orienta quando fazemos churrasco dos nossos companheiros? Ou apenas um mau costume? Hans Staden nos conta que:
“Ele (chefe do grupo indígena) falava e lhes contava que comigo eles tinham capturado um peró – assim chamavam os portugueses – e que me tinham feito escravo e que, agora, comigo, iriam vingar a morte de seus amigos. (…) Então iriam me matar, cauim pepica, isto é, preparar bebida, reunir-se, fazer uma festa e comer-me, todos juntos. (…) Era dele um dos cristãos assados, e, de acordo com o costume, mandou os selvagens prepararem a bebida. Muita gente reuniu-se, beberam, cantaram e fizeram uma grande festa” (op. cit., p. 63 e 113).
Churrasco!, fizeram churrasco do cristão! É a esse péssimo costume que damos continuidade? Gostoso?!?! Fonte de proteína?!?! O jesuíta recomendou ao índio, e hoje o médico recomenda ao paciente: evite, jogue fora o costume de comer carne, sobretudo a que tem sangue. E dessa vez sem intenções escravo-colonialistas.
Entre parênteses: segundo o Houaiss, chacina é abate e esquartejamento de porco ou gado. Assassinato em massa com crueldade é um sentido derivado. Por isso, caro leitor, não se espante quando ouvir falar de churrascos, quer dizer, não se espante quando ouvir falar de chacinas no noticiário.